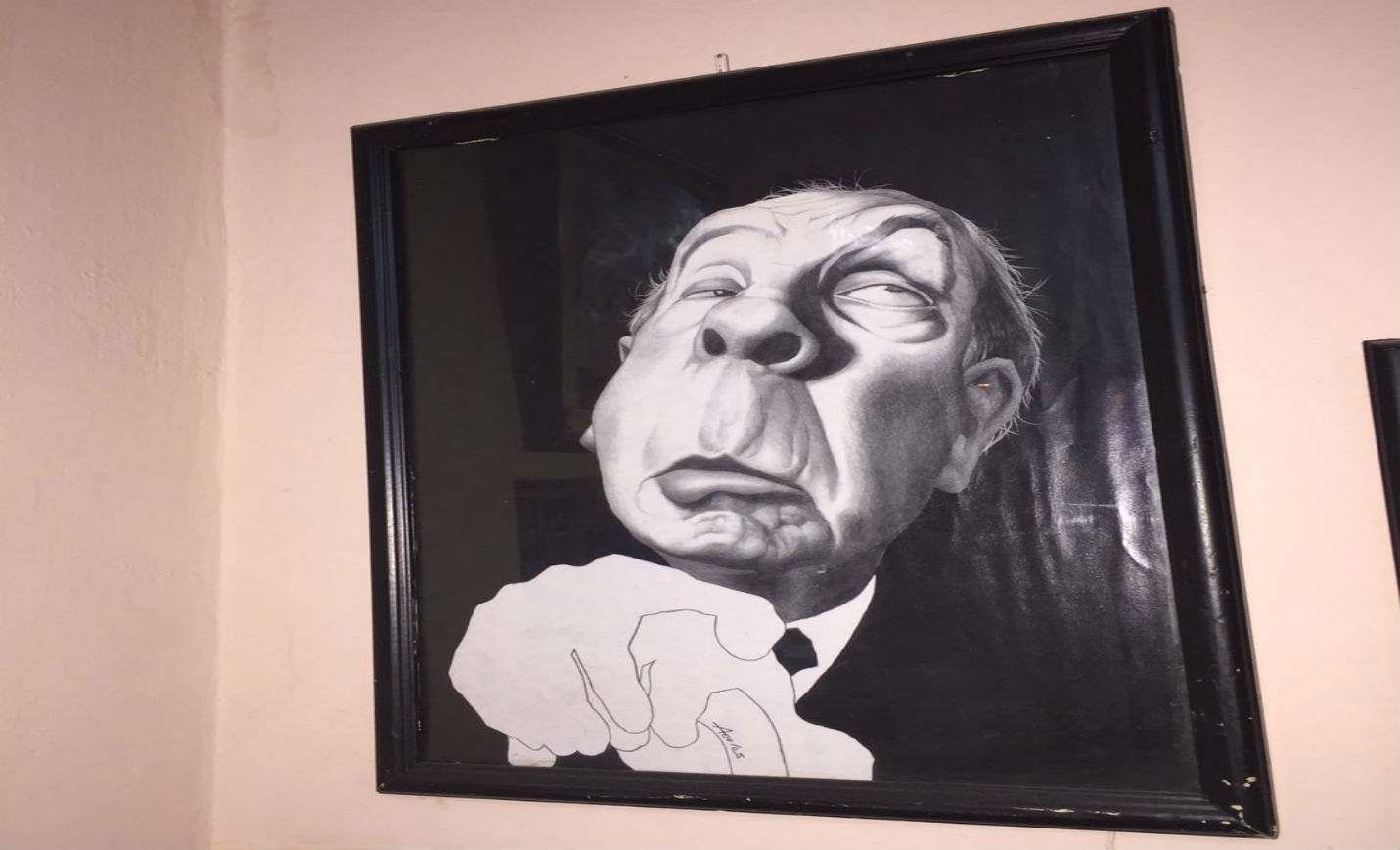Salve, Alfredo,
Sei lá se você conseguiu acompanhar tudo daí de cima (tava meio nublado), mas a opinião foi geral: seu funeral foi do caralho!
Veio deputado, gari, senador federal, crianças, morador de rua, cineastas, baleiros e babás. Nada mal para um humilde corretor de fundos públicos nascido em Bangu, hein? O que mais tinha, claro, eram seus favoritos: músicos e malucos. Às pencas e fantasiados. Até os vizinhos malas apareceram.
O Rubem Braga um dia escreveu que em todo bom velório deveria haver olhos vermelhos e risos sem remorsos, e foi o que se viu no Bip Bip. Teve choro, claro, mas também muito samba, risos e boas histórias.
Seu esquife ficou no centro do bar, deitadão sobre a mesa, e a fila dos seus amigos ia até o meio da rua. Houve um incauto, parece que mineiro, que ficou desconfiadíssimo: aquela farra só podia ser bloco, e o caixão, fantasia de Segunda-Feira de Carnaval. Fora de sacanagem, ele quase apertou seu nariz para acreditar, o coitado. Você ia rir pacas, se pudesse.
Na roda, armada do lado de fora, alguém improvisou em cima do clássico: “Sei que vou morrer, não tenho medo / Levarei saudades do Alfredo…”. De lá, ao som de surdo, cuíca e pandeiro, saiu geral para o sepultamento no São João Batista, indescritível – ainda bem que filmaram. Depois dali, metade da turma ainda foi para a Avenida ver a sua Mangueira campeã, com o samba lindo composto por seus meninos. Que dia, hein!
Alfredo, você estava certo, mais uma vez: no belo livrinho “Bip Bip, um bar a serviço de alegria”, na página 12, você previa: “Amigos dizem que o Bip Bip sou eu, com o que não concordo. Outro dia, um frequentador me pediu, até comovido, que eu fosse ‘imorrível’”, escreveu você, já agradecendo a Matias Bidart, Zé Paulo Fernandes, Ari Miranda e outros por manterem o bar aberto nas suas eventuais ausências, antes de completar: “O Bip somos todos nós, e vai continuar assim para sempre”. Sábias palavras!
O bar segue cada vez mais lindo – teve aniversário do Matias outro dia lá – e tudo do jeitinho que você gostava. De novidade, apenas uma: o esporro democrático. Na falta da sua voz de trovão para clamar por silêncio, agora todo mundo manda todo mundo calar a boca. Está lindo.

Dureza, dureza mesmo, é chegar ao bar e dar de cara com a cadeirinha de plástico, ali na ponta direita, sem você. Na quinta-feira, o Emiliano não aguentou.
Mas descobriu-se um senhor antídoto para a saudade, à venda ali mesmo no bar, por parcos 35 reais: o livro sobre o Bip já citado. No miolo da obra, há uma sensacional entrevista com você, feita pelos autores Chiquinho Genu, Luís Pimentel e Marceu Vieira. São 55 páginas de papo, e é fácil ouvir sua voz.
E o livro é ainda mais valioso para quem não conheceu você. Lá está o seu primeiro dia no bar, como freguês tarado pela batida de maracujá, quando você saiu para comprar Cibalena na farmácia e acabou atraído por fogos de artifício (era a inauguração do Bip!). Ou seus tempos como comerciante na AJ Melo Assessoria de Comércio Exterior, em 1985, quando corruptos de todos os lados te aporrinhavam, até que você desistiu. Suas desventuras na Rússia! E, claro, suas tiradas. Exemplo: “Ser dono de bar é uma merda. Não se pode ir a show, nem a cinema, muito menos ao teatro – e só se consegue trepar de manhã!”
Alfredo, é paixão e é jura: por toda sua meninada, pela memória de sua Tia Freirinha, pelo funcionário do Bip que roubou você e depois virou evangélico, pelo caloteiro que bebeu 4 mil dólares no bar e jamais pagou, pelo seu tio Cônego Vasconcelos – aquele que um dia desceu do altar e expulsou um grupo de cadetes aos tapas por fazerem zorra na igreja, em Bangu –, pelo Roni Cócegas, sim, o Cocada, o próprio, o Galeão Cumbica, que um dia passou por você e deu a dica de que o Bip estava à venda, pela moça bela que pousou um dos seios no seu ombro para aliviar a conta, pelos chatos que você detectava de longe, como ninguém: o bar seguirá. Afinal, o bar somos todos nós, e vai continuar assim para sempre – com o mesmo espírito, sem concessões e modernices.
No máximo, no máximo, com o retorno das esplêndidas batidas de maracujá.
Que venham mais 50 anos! Fique em paz.
Beijos
do Marcelo Dunlop